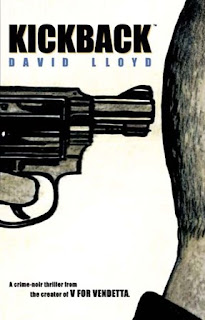Nesta quarta-feira, comemorou-se o “Dia do Quadrinho Nacional”. Para marcar a data, republico aqui um texto em que faço um breve apanhado da trajetória dos quadrinhos em nosso país. A imagem que ilustra esta postagem é da série Nhô Quim de Angelo Agostini (e foi retirada da primeira edição da Phênix, revista da história dos quadrinhos, uma interessante iniciativa de pesquisa que, infelizmente, durou pouco).
Apesar das dificuldades enfrentadas pelos autores, uma história dos quadrinhos no Brasil revelaria talentos de nível internacional e artistas que certamente figurariam entre os grandes nomes dessa arte. Começando com a série Nhô Quim, lançada em 30 de janeiro de 1869 pelo desenhista Angelo Agostini, a galeria das HQs brasileiras teria como um de seus marcos fundadores o surgimento, em 1905, da revista O Tico Tico, que trouxe colaborações do ilustrador J. Carlos e publicou a série infantil Reco-Reco, Bolão e Azeitona, criada por Luíz Sá.
Também marcariam a memória dos leitores HQs como Garra Cinzenta de Francisco Armond e Renato Silva, publicada em 1937. Mas, como é comum na trajetória dos quadrinhos no Brasil, um início promissor foi seguido por um período de “vacas magras”, no qual passaram a predominar as tirinhas norte-americanas veiculadas por publicações infanto-juvenis. Somente na década de 1950 os quadrinhos brasileiros ganhariam de fato novo destaque (como na revista infantil Era uma vez...). Mas a mesma sociedade que se escandalizava com as peças de Nelson Rodrigues proibia e condenava à marginalidade os “catecismos” pornográficos (do hoje festejado) Carlos Zéfiro.
Em 1959, estreou uma das mais duradouras revistas em quadrinhos totalmente produzidas no Brasil: As Aventuras do Anjo, que projetaria nacionalmente o nome do desenhista Flavio Colin. Já neste primeiro trabalho (que adaptava para os quadrinhos um famoso seriado da Rádio Nacional), Colin apresentou seu traço sintético e a busca pela valorização da cultura e realidade brasileiras, que o tornariam um dos quadrinistas mais originais e reconhecidos do Brasil. Naquele mesmo ano, o Brasil ganharia seu primeiro super-herói: o Capitão 7, que seria seguido de vários outros, a começar por Raio Negro, personagem criado por Gedeone Malagola em 1965.
Certamente, porém, o espaço privilegiado para os quadrinistas brasileiros nos anos 60 foram as revistas de terror. Com o desaparecimento das publicações desse gênero nos Estados Unidos, algumas editoras brasileiras (como a renomada Outubro) passaram a investir em produções locais. Nas páginas daquelas revistas, surgiram ou consagraram-se nomes como Jayme Cortez e Eugenio Colonnese, além do mestre Julio Shimamoto responsável por HQs antológicas como “Os Fantasmas do Rincão Maldito”. A saga dos quadrinhos de terror brasileiros ainda geraria muitos frutos, semeando publicações regulares até os anos 80.
Mas voltando aos anos 60, a influência modernista e o nacionalismo da Era JK tomaram conta da sociedade, refletindo-se nas páginas de uma das mais autênticas experiências dos quadrinhos brasileiros: a revista Pererê, criada por Ziraldo (e publicada em cores mensalmente pela editora de O Cruzeiro entre 1960 e 1964). Na mesma época, também começava a projetar-se (através das tirinhas do personagem Bidu e das primeiras HQs da futura Turma da Mônica) o desenhista Maurício de Sousa, que se tornaria o mais bem-sucedido empresário dos quadrinhos no Brasil.
Nos anos de repressão e censura da Ditadura Militar, surgiu uma incrível força de resistência. Para surpresa de muitos (que consideravam os quadrinhos apenas “uma inocente distração”), jornais como O Pasquim lançaram uma nova geração de desenhistas contestadores, encabeçada por Henfil (que com suas HQs dos Fradins e da Grauna provou que os quadrinhos podem tratar de questões sociais sem deixar de lado a arte). Na mesma linha, surgiriam novos talentos do cartum, como Nilson, Lor, Edgar Vasques e muitos outros. Numa seara bem diversa, trabalhando a partir da estética do cordel e da xilogravura, Jô Oliveira chegou da Hungria com seu original e marcante A Guerra do Reino Divino. E o Nordeste ainda nos daria outros batalhadores, como os autores-editores Antônio Cedraz e Henrique Magalhães, entre tantos outros.
Uma nova explosão dos quadrinhos brasileiros aconteceria nos anos 70, através da imprensa alternativa e de publicações independentes que privilegiavam os estilos pessoais e a cultura latino-americana (como Versus, Bicho e Risco). Já outras incorporavam influências das HQs de futurismo e fantasia de publicações como Métal Hurlant e Heavy Metal, sendo Mozart Couto e Watson Portela dois importantes destaques dessa corrente. Outra vertente na época seguia a linha do quadrinho underground norte-americano e francês, quando Angeli, Laerte e Glauco conquistaram legiões de fãs que hoje prestigiam as coletâneas de seus trabalhos. Mas, em termos artísticos, poucos alcançaram tanto quanto Luiz Gê (que nas páginas da Circo apresentava trabalhos que nada deixam a dever ao melhor quadrinho de autor europeu).
Nos anos 80, aconteceu uma nova retração no mercado de quadrinhos, amenizada por experiências esporádicas de pequenas editoras e pela iniciativa dos autores. O fanzineiro Marcatti e o desenhista Lacarmélio (conhecido pelo nome do personagem Celton) são representantes célebres da geração que montou suas gráficas e editoras caseiras de onde saíram os fanzines e revistas independentes que (em mimeógrafo, xérox ou tipografia) continuaram a trajetória dos quadrinhos brasileiros. Se os anos 90 começaram com outra crise econômica que inibiu ainda mais a produção de HQs, a relativa estabilidade de meados da década e as facilidades editoriais trazidas pela computação deram um novo alento aos quadrinhos brasileiros. O resultado imediato foi o surgimento de inúmeras revistas e grupos de desenhistas por todo o país, além de álbuns e coletâneas com os trabalhos de autores originais, como Ofeliano, Lourenço Mutarelli, Fernando Gonsales, Marcelo Lelis, Fábio Zimbres e muitos outros que poderíamos citar aqui.
Nos últimos anos, embora tenha havido um maior interesse por parte dos editores, a situação mercadológica dos quadrinhos brasileiros não melhorou. Em outras palavras, o mercado brasileiro de quadrinhos continua não pertencendo prioritariamente (como deveria ser) aos autores brasileiros. A despeito disso, vários jovens talentos têm surgido, através de edições independentes e também organizando-se em grupos (como o recém-lançado Coletivo Quarto Mundo). E isso sem falar na Internet, espaço cada vez mais ocupado por nossos quadrinhos, como comprovou a longa relação de saites e blogs divulgada pelo jornalista Paulo Ramos. Por tudo isso (e por ainda mais que ficou de fora deste breve apanhado), só me resta dizer: viva o quadrinho brasileiro!
Apesar das dificuldades enfrentadas pelos autores, uma história dos quadrinhos no Brasil revelaria talentos de nível internacional e artistas que certamente figurariam entre os grandes nomes dessa arte. Começando com a série Nhô Quim, lançada em 30 de janeiro de 1869 pelo desenhista Angelo Agostini, a galeria das HQs brasileiras teria como um de seus marcos fundadores o surgimento, em 1905, da revista O Tico Tico, que trouxe colaborações do ilustrador J. Carlos e publicou a série infantil Reco-Reco, Bolão e Azeitona, criada por Luíz Sá.
Também marcariam a memória dos leitores HQs como Garra Cinzenta de Francisco Armond e Renato Silva, publicada em 1937. Mas, como é comum na trajetória dos quadrinhos no Brasil, um início promissor foi seguido por um período de “vacas magras”, no qual passaram a predominar as tirinhas norte-americanas veiculadas por publicações infanto-juvenis. Somente na década de 1950 os quadrinhos brasileiros ganhariam de fato novo destaque (como na revista infantil Era uma vez...). Mas a mesma sociedade que se escandalizava com as peças de Nelson Rodrigues proibia e condenava à marginalidade os “catecismos” pornográficos (do hoje festejado) Carlos Zéfiro.
Em 1959, estreou uma das mais duradouras revistas em quadrinhos totalmente produzidas no Brasil: As Aventuras do Anjo, que projetaria nacionalmente o nome do desenhista Flavio Colin. Já neste primeiro trabalho (que adaptava para os quadrinhos um famoso seriado da Rádio Nacional), Colin apresentou seu traço sintético e a busca pela valorização da cultura e realidade brasileiras, que o tornariam um dos quadrinistas mais originais e reconhecidos do Brasil. Naquele mesmo ano, o Brasil ganharia seu primeiro super-herói: o Capitão 7, que seria seguido de vários outros, a começar por Raio Negro, personagem criado por Gedeone Malagola em 1965.
Certamente, porém, o espaço privilegiado para os quadrinistas brasileiros nos anos 60 foram as revistas de terror. Com o desaparecimento das publicações desse gênero nos Estados Unidos, algumas editoras brasileiras (como a renomada Outubro) passaram a investir em produções locais. Nas páginas daquelas revistas, surgiram ou consagraram-se nomes como Jayme Cortez e Eugenio Colonnese, além do mestre Julio Shimamoto responsável por HQs antológicas como “Os Fantasmas do Rincão Maldito”. A saga dos quadrinhos de terror brasileiros ainda geraria muitos frutos, semeando publicações regulares até os anos 80.
Mas voltando aos anos 60, a influência modernista e o nacionalismo da Era JK tomaram conta da sociedade, refletindo-se nas páginas de uma das mais autênticas experiências dos quadrinhos brasileiros: a revista Pererê, criada por Ziraldo (e publicada em cores mensalmente pela editora de O Cruzeiro entre 1960 e 1964). Na mesma época, também começava a projetar-se (através das tirinhas do personagem Bidu e das primeiras HQs da futura Turma da Mônica) o desenhista Maurício de Sousa, que se tornaria o mais bem-sucedido empresário dos quadrinhos no Brasil.
Nos anos de repressão e censura da Ditadura Militar, surgiu uma incrível força de resistência. Para surpresa de muitos (que consideravam os quadrinhos apenas “uma inocente distração”), jornais como O Pasquim lançaram uma nova geração de desenhistas contestadores, encabeçada por Henfil (que com suas HQs dos Fradins e da Grauna provou que os quadrinhos podem tratar de questões sociais sem deixar de lado a arte). Na mesma linha, surgiriam novos talentos do cartum, como Nilson, Lor, Edgar Vasques e muitos outros. Numa seara bem diversa, trabalhando a partir da estética do cordel e da xilogravura, Jô Oliveira chegou da Hungria com seu original e marcante A Guerra do Reino Divino. E o Nordeste ainda nos daria outros batalhadores, como os autores-editores Antônio Cedraz e Henrique Magalhães, entre tantos outros.
Uma nova explosão dos quadrinhos brasileiros aconteceria nos anos 70, através da imprensa alternativa e de publicações independentes que privilegiavam os estilos pessoais e a cultura latino-americana (como Versus, Bicho e Risco). Já outras incorporavam influências das HQs de futurismo e fantasia de publicações como Métal Hurlant e Heavy Metal, sendo Mozart Couto e Watson Portela dois importantes destaques dessa corrente. Outra vertente na época seguia a linha do quadrinho underground norte-americano e francês, quando Angeli, Laerte e Glauco conquistaram legiões de fãs que hoje prestigiam as coletâneas de seus trabalhos. Mas, em termos artísticos, poucos alcançaram tanto quanto Luiz Gê (que nas páginas da Circo apresentava trabalhos que nada deixam a dever ao melhor quadrinho de autor europeu).
Nos anos 80, aconteceu uma nova retração no mercado de quadrinhos, amenizada por experiências esporádicas de pequenas editoras e pela iniciativa dos autores. O fanzineiro Marcatti e o desenhista Lacarmélio (conhecido pelo nome do personagem Celton) são representantes célebres da geração que montou suas gráficas e editoras caseiras de onde saíram os fanzines e revistas independentes que (em mimeógrafo, xérox ou tipografia) continuaram a trajetória dos quadrinhos brasileiros. Se os anos 90 começaram com outra crise econômica que inibiu ainda mais a produção de HQs, a relativa estabilidade de meados da década e as facilidades editoriais trazidas pela computação deram um novo alento aos quadrinhos brasileiros. O resultado imediato foi o surgimento de inúmeras revistas e grupos de desenhistas por todo o país, além de álbuns e coletâneas com os trabalhos de autores originais, como Ofeliano, Lourenço Mutarelli, Fernando Gonsales, Marcelo Lelis, Fábio Zimbres e muitos outros que poderíamos citar aqui.
Nos últimos anos, embora tenha havido um maior interesse por parte dos editores, a situação mercadológica dos quadrinhos brasileiros não melhorou. Em outras palavras, o mercado brasileiro de quadrinhos continua não pertencendo prioritariamente (como deveria ser) aos autores brasileiros. A despeito disso, vários jovens talentos têm surgido, através de edições independentes e também organizando-se em grupos (como o recém-lançado Coletivo Quarto Mundo). E isso sem falar na Internet, espaço cada vez mais ocupado por nossos quadrinhos, como comprovou a longa relação de saites e blogs divulgada pelo jornalista Paulo Ramos. Por tudo isso (e por ainda mais que ficou de fora deste breve apanhado), só me resta dizer: viva o quadrinho brasileiro!